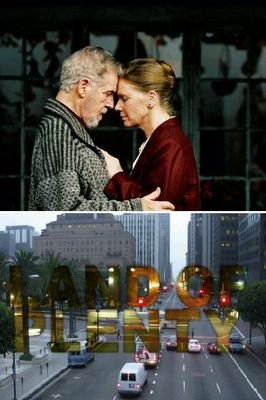(ou a história de uma interrupção longa demais ou a tentativa de absolvição para algo indesculpável)
Ainda que os leitores assíduos deste blog não sejam mais que dois – numa hipótese mais optimista talvez três – sinto que, se não largasse aqui uma tentativa de explicação para este hiato temporal desde a última publicação, estaria a ser evidente demais no meu desleixo.
O que aconteceu foi o seguinte: num dia de Dezembro lembrei-me de fazer uma tosta de queijo e fiambre. É certo que o clima ainda estava longe da aspereza glacial que hoje é motivo de conversa em cada esquina desta cidade. Mas deu-me para lanchar naquele dia, mal sabendo no que me metia. Um dos milhares de actos quotidianos que, à partida, são do mais fútil e inócuo que existe. E por ser assim, os gestos que se fazem aquando destas tarefas rotineiras são tão automáticos que nem pensamos neles. Gestos como o de rodar uma maçaneta ou o de enfiar dois dedos na asa da chávena e levá-la à boca são imediatamente arrumados num desvão do cérebro até que algum psiquiatra necessite de fazer uma regressão através da hipnose e descubra que há algo dentro de nós que não está muito bem nivelado. Abrir a tostadeira, meter lá dentro o pão, fechar a tostadeira, fazer outras coisas mais importantes, entretanto. Parece simples, parece brincadeira de crianças, ou de bebés até. Mas, não são assim tão poucas as vezes que destas funções mundanas resultam graves incidentes. Um curto-circuito, por exemplo. Não foi mais sério porque o quadro da luz disparou e a coisa morreu ali. No momento imediato pensei: «tenho demasiados aparelhos ligados. Desligo o aquecedor e a tosta continuará o seu caminho.» Assim fiz. Quando voltei a ligar o quadro a luz voltou a desligar-se. Foi quando notei que, afinal, não tinha apenas uma tosta no menu. Uma secção do fio de alimentação à corrente eléctrica estava também a ser tostado. Obviamente, seguro que daquele meneio tão habitual somente resultaria o estancar da fome (ou gula) nem reparei que o cabo, meio enovelado por falta de arrumação competente, tinha ficado trilhado e derretia com o mesmo compasso do queijo.
Pois, mas que tem isto a ver com o «silêncio» abrupto do weblog? Toda a gente sabe que os produtos informáticos são hiper-sensíveis. Todos os que lidam diariamente com computadores (como eu) deviam saber que existem umas coisas que se chamam UPS, que protegem os aparelhos informáticos, precisamente contra os atentados lancinantes da rede eléctrica. Caros amigos: eu não tinha nenhum tipo de segurança, e, azar dos azares, paguei – e ainda estou a pagar – bem caro por isso. A motherboard do computador torrou, tal como a tosta e tal como o fio de alimentação à corrente. Acresce a isto tudo o facto determinante de ter comprado a peça (e o resto dos componentes) no Porto, numa daquelas betesgas de informática, erigidas num dos manhosos Centros Comerciais da zona mais decadente de Gaia. Tudo com o objectivo sôfrego de conseguir arrepanhar uma ou duas centenas de euros. E acontece-me isto, que não sou propriamente dado a economias quando chega a altura de investir em informática. Detesto lugares-comuns mas este tem que ser aqui escarrapachado para ver se aprendo: o barato sai caro.
Refeito do desgosto, levantada a cabeça, dissecado e depois sarado o trauma, tratei de levar o acessório à loja na expectativa de a ter reparada ou substituída brevemente. Meteu-se o Natal, meteu-se o final de Ano e a seguir, um tempo em que é costume haver no economato português uma «actividade» chamada balanço. Este período «transitório» costuma durar uns dias, uma semana, vá lá. Hoje, que já passaram duas, contabilizei, até agora, dois pesadelos cujas particularidades agora não me recordo mas, na essência, tinham a ver com falências de lojas de informática e grandes espaços despojados de qualquer tipo de móveis, secretárias ou computadores. Lembro-me de acordar a meio do sonho, ainda com o corpo trémulo e os olhos obstruídos pelas lágrimas, a gritar «não me levem a motherboard, por favor. Voltem.» Portanto, aguardo notícias.
Se escrevo estas palavras e as publico agora é porque uma alma altruísta me emprestou um computador. Pessoas insistiram para que fosse a um cibercafé ou que ficasse até mais tarde no emprego e escrevesse lá, que permanecesse indiferente ao meio ambiente, que ignorasse as conversas estrídulas das pessoas e que não lhes ligasse nenhuma quando espreitassem ou viessem perguntar «o que escreves?», que fingisse não sentir a luz cortante e espasmódica no rosto, que, no fundo, abdicasse do conforto de casa, que tanto tempo levou a compor ao meu gosto. Afinal, não é isso que fazem os grandes escritores, perguntavam as pessoas, algo desapontadas. Pois, mas eu não sou um grande escritor e essas pessoas foram instantaneamente recambiadas para o fundo da lista de contactos (é verdade, a minha lista de contactos tem um fundo), à conta do temperamento muito excêntrico e muito susceptível do autor desta história.
E agora que o número de leitores deste weblog se reduziu dramaticamente não me resta outra alternativa senão começar de novo o testemunho e o relato destes dias cada vez mais desordenados.